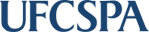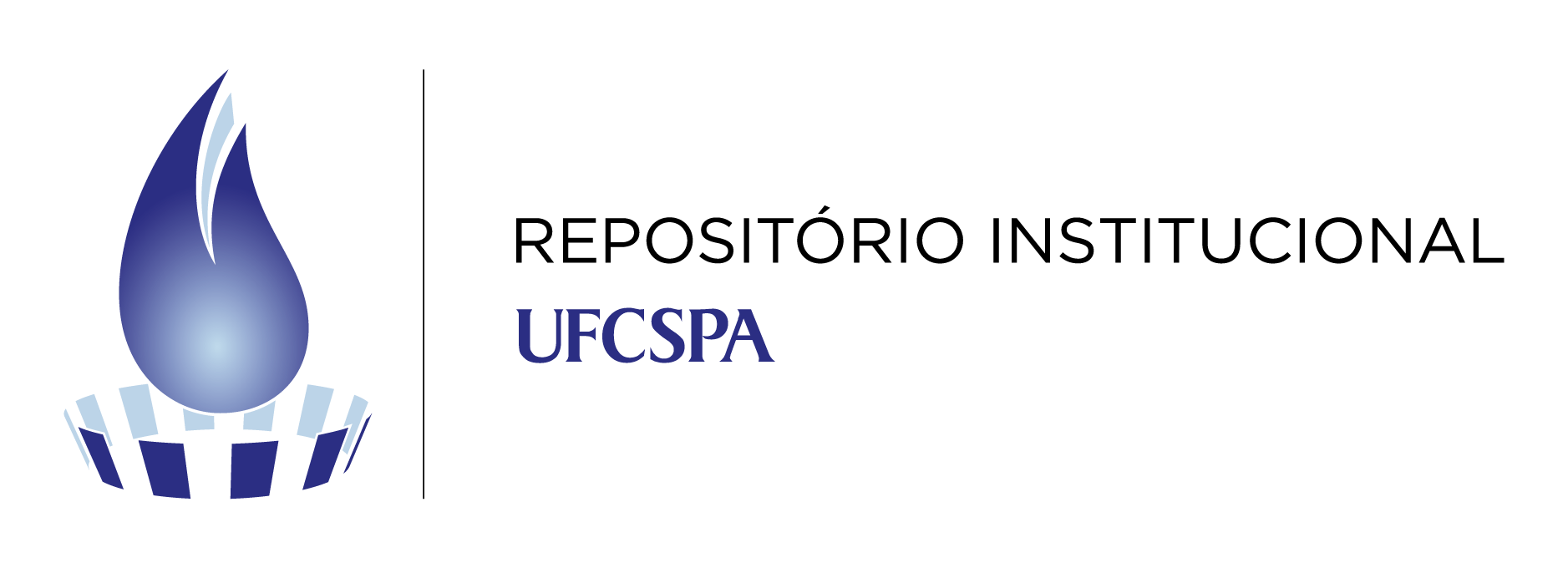
Submissões Recentes
Item type: Item , Impacto da reabilitação física na fadiga de pacientes onco-hematológicos submetidos a tratamentos citotóxicos(2025-12-18) Penna, Giana Berleze; Macagnan, Fabricio Edler; Programa de Pós-Graduação em Ciências da ReabilitaçãoEsta tese teve como objetivo incrementar o conhecimento referente ao manejo da fadiga relacionada ao câncer em diferentes fases do tratamento citotóxico antineoplásico, por meio da implementação da reabilitação física. Métodos artigo 1: Esta revisão sistemática, conduzida de acordo com as diretrizes PRISMA e registrada no PROSPERO, avaliou o efeito da fisioterapia na fadiga relacionada ao câncer (FRC) durante o tratamento antineoplásico com quimioterapia. Revisão sistemática com metanálise de ensaios clínicos randomizados publicados entre 2010 e 2021 (EMBASE, MEDLINE, PEDro; SciELO e LILACS). Foram incluídos nesta revisão estudos que avaliaram o efeito da fisioterapia supervisionada (FS) no manejo da FRC em adultos submetidos a tratamento antineoplásico, comparados a um grupo controle (GC) que abrangia o tratamento usual ou qualquer prática não controlada, como recomendações sobre exercícios e educação em saúde. Resultados artigo 1: Um total de 22 estudos foram incluídos na revisão sistemática e 21 na metanálise, totalizando 1.992 indivíduos (GC = 973 e FS = 1.019). Houve redução na fadiga geral [DMP = − 0,69; IC 95% (− 1,15, − 0,22) p < 0,01; I2 = 87%; NNT = 3], com maior peso atribuído ao exercício combinado (44%). A fadiga física também foi reduzida [SMD= − 0,76; IC 95% (− 1,13, − 0,39) p < 0,01; I2 = 90%; NNT = 2], com maior peso para o exercício de resistência (50%) e maior efeito com o exercício combinado [SMD= −1,90; IC 95% (−3,04,−0,76) p<0,01; I 2=96%]. Houve redução na fadiga geral com intensidade moderada (74%) [SMD= −0,89; IC 95% (−1,61,−0,17) p<0,02; I2=90%] e fadiga física [SMD= −1,00; IC 95% (−1,54,−0,46) p<0,01; I²=92%], enquanto a alta intensidade reduziu apenas a fadiga geral [SMD= −0,35; IC 95% (−0,51,−0,20) p < 0,01; I² = 0%]. O número total de sessões e de sessões semanais demonstrou contribuir para a redução da fadiga relacionada ao câncer. Métodos artigo 2: Objetivou-se comparar o efeito de três modos de reabilitação física sobre a fadiga relacionada ao câncer (FRC) de pacientes hospitalizados para o transplante de células-tronco hematopoéticas (TCTH). Ensaio clínico randomizado com pacientes submetidos ao TCTH, alocados em grupo aeróbio (AE), resistido (RE) ou combinado (C) para a realização de reabilitação física durante a internação hospitalar. Foram 5 sessões semanais, conforme viabilidade clínica, 15-20 minutos por sessão com intensidade moderada de exercício físico. Os desfechos avaliados foram FRC e desempenho físico (Teste do senta e levanta de 30 segundos – TSL30 e força de preensão palmar), além da viabilidade clínica para realização da reabilitação, segurança e adesão. Resultado artigo 2: Total de 45 pacientes completaram as intervenções (AE=14; RE=15; C=16). A viabilidade clínica geral foi de 70% (AE=68%; RE=67%; C=72%) e a adesão foi de 87% (AE=83%; RE=86%; C=92%). Nenhum evento adverso relacionado ao exercício físico foi registrado. A FRC não apresentou diferença significativa (p=0,89) entre os diferentes tipos de intervenção e manteve baixa oscilação entre pré e pós-TCTH quando os diferentes grupos foram unificados em uma amostra. O desempenho físico também não apresentou resultados significativos, tanto no TSL30 (p=0,62) e na força de preensão palmar (p=0,84).Item type: Item , Bayesian optimization of a laser-plasma accelerator aiming the production of high-energy electron beams for VHEE radiotherapy(2025-08-25) Santos, Samara Prass dos; Bonatto, Alexandre; Sánchez, Mirko Salomón Alva; Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Informação e Gestão em SaúdeA radioterapia é uma das principais modalidades de tratamento para tumores malignos. No entanto, a toxicidade dos tecidos normais, que limita a dose, ainda é um dos obstáculos significativos à sua aplicação. A protonterapia tem se mostrado promissora por sua potencial adequação a esse aspecto; contudo, seu custo é atualmente considerado elevado demais para o uso generalizado, uma vez que é necessária uma infraestrutura significativa para transportar os feixes até os pacientes. Elétrons com energias variando de 50 a 250 MeV, conhecidos como elétrons de altíssima energia (VHEE, do inglês Very High Energy Electrons), exibem penetração profunda nos tecidos, tornando-os uma opção atraente para a radioterapia convencional e para a radioterapia FLASH. Esta última destaca-se como uma alternativa capaz de fornecer doses curativas mais elevadas, possibilitando a redução da toxicidade em tecidos normais e a superação da resistência tumoral à radiação. Equipamentos baseados na tecnologia FLASH a partir de VHEE tornam-se vantajosos para produzir tal efeito. Em particular, para este propósito, aceleradores a laser-plasma (LPA) têm sido estudados para produzi-los de forma compacta e com custo reduzido, se comparados à aceleração convencional de íons em cíclotrons, apresentando grande potencial para aplicações médicas. Neste contexto, este trabalho propõe o uso da otimização Bayesiana de um acelerador de laser-plasma para produzir feixes de elétrons com propriedades adequadas para radioterapia VHEE. O processo de otimização, abrangendo 377 simulações, resultou em um feixe de elétrons de alta qualidade com uma carga total de aproximadamente 1,86 nC. O espectro de energia final é bimodal, com picos distintos e quase monoenergéticos em energias terapeuticamente relevantes de 160 MeV e 197 MeV, além de um corte nítido em 300 MeV. Isso representa um espectro "mais limpo" e qualitativamente superior para aplicações VHEE em comparação a trabalhos anteriores, com uma redução significativa na população de elétrons de baixa energia. Uma análise de correlação revelou percepções físicas importantes, identificando a composição do gás como um potencial determinante da energia do feixe e a geometria da rampa de plasma como um possível controle principal para a carga acelerada, exigindo análises paramétricas adicionais. No entanto, o estudo foi limitado pela falta de convergência dos parâmetros de entrada, o que foi atribuído ao uso de uma mistura gasosa de Hélio-Nitrogênio. A viabilidade computacional desta pesquisa foi apoiada pelo Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC/MCTI, Brasil), que forneceu acesso ao supercomputador Santos Dumont (Projeto LPA-FARMA), contribuindo significativamente para os resultados relatados neste trabalho.Item type: Item , Análise da composição e rotulagem nutricional de barras proteicas frente às legislações vigentes(2025-11-11) Tomazelli, Ana Laura Freda; Silveira, Clarice Krás Borges da; Hautrive, Tiffany Prokopp; NutriçãoIntrodução: A rotulagem de alimentos no Brasil é regulamentada por órgãos nacionais e internacionais. As barras proteicas disponíveis no mercado enquadram-se em legislações a depender da classificação do produto, podendo ser regulamentadas como alimentos embalados no geral ou suplementos alimentares. Objetivos: Avaliar a rotulagem e composição nutricional de barras proteicas, a fim de verificar a qualidade e veracidade das informações fornecidas nos rótulos. Métodos: Foram analisados rótulos de barras proteicas, disponíveis para comercialização em Porto Alegre, RS. Foram incluídos todos os produtos com denominação de venda de “barra de proteína”, “suplemento alimentar em barra de proteína” e “suplemento alimentar proteico em barra”. Para analisar a rotulagem geral e nutricional desses produtos, foram elaboradas 2 listas de verificação, uma para barras de proteínas e, outra, para suplementos alimentares de proteína em barra, a partir das legislações vigentes. Resultados: Foram analisados 158 rótulos de barras proteicas. Os suplementos alimentares apresentaram 85,4% de adequação e as barras de proteínas 83,1% em relação aos aspectos de rotulagem analisados. O item de maior inadequação para os suplementos alimentares foram as alegações nutricionais e para as barras de proteínas a declaração de rotulagem frontal. Para os dois grupos, verificou-se a predominância de fontes de gorduras saturadas e fontes proteicas de origem animal. Também, os aditivos mais frequentes foram emulsificante lecitina, edulcorante maltitol, conservante sorbato de potássio, umectante glicerol e aromatizante natural. Conclusão: Os produtos classificam-se como alimentos ultraprocessados e apresentam inconformidades de rotulagem, o que pode impactar na saúde e escolha de compra.Item type: Item , Tempo de diagnóstico da Afasia progressiva primária em países de alta e média-alta renda: um estudo retrospectivo(2025-11-12) Englert, Luísa Todeschini; Beber, Bárbara Costa; FonoaudiologiaIntrodução: A Afasia Progressiva Primária (APP) é um distúrbio de caráter neurodegenerativo, caracterizado pelo comprometimento progressivo de funções linguísticas. O seu diagnóstico costuma ser difícil e sofrer influência de diversos aspectos. O presente estudo busca comparar o tempo de diagnóstico da APP entre países de alta e média-alta renda. Métodos: Trata-se de um estudo transversal retrospectivo comparativo. A coleta de dados foi realizada em contribuição com pesquisadores estrangeiros. Os países incluídos foram classificados em 2 grupos, conforme renda, e o desfecho primário foi o tempo de diagnóstico da APP. A análise estatística foi realizada no software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), considerando nível de significância de 5%. Resultados: A amostra final incluiu 126 indivíduos, e houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos quanto ao desfecho de interesse, indicando tempo maior para o diagnóstico nos países de média-alta renda. Além disso, foi observada diferença significativa quanto às variantes da APP. Conclusão: Conclui-se que o tempo para o diagnóstico da APP, assim como a classificação da sua variante, são fatores que sofrem influência das condições socioeconômicas dos países, mesmo na ausência de diferenças significativas quanto a variáveis importantes, como nível de escolaridade. Isso indica que a complexidade diagnóstica da APP não depende somente de aspectos clínicos, mas também de determinantes sociais e econômicos. Visto que quanto maior o atraso no diagnóstico, mais tardio é o tratamento e pior é o prognóstico, evidencia-se que a demora na identificação da demência é o primeiro indicativo de uma falha sistemática na assistência a essas pessoas, a qual é ainda mais prejudicada em países com piores condições socioeconômicas. É imprescindível aprimorar e ampliar o acesso a profissionais capacitados que possam identificar a APP precocemente, bem como conscientizar a comunidade profissional de quem são esses profissionais.Item type: Item , Correlação entre praxias orofaciais e biomarcadores digitais de fala em pessoas com doença de Alzheimer em estágio leve(2025-11-12) Sanches, Gabriela Cordova; Beber, Bárbara Costa; Souza, Guilherme Briczinski de; FonoaudiologiaIntrodução: A doença de Alzheimer (DA) é marcada por comprometimentos progressivos na cognição e na linguagem. Alterações de praxia orofacial são descritas como sintomas associados à DA, iniciando precocemente e se agravando com a progressão da doença. Objetivo: Investigar a correlação entre praxias orofaciais e biomarcadores de fala em pessoas com DA leve. Método: Estudo transversal e comparativo entre indivíduos com DA leve (GDA) e indivíduos saudáveis (GS). Os participantes foram recrutados em um ambulatório de neurologia de um hospital do sul do Brasil e na comunidade local. A coleta de dados foi realizada por meio de um formulário socioeconômico e de saúde, da aplicação da tarefa de praxias não verbais da Bateria Montreal-Toulouse de Linguagem (MTL), do Exame Cognitivo de Addenbrooke Revisado (ACE-R), utilizado para a avaliação do perfil cognitivo, e do aplicativo Tool to Examine Life Language (TELL), destinado à análise automatizada da fala espontânea. Resultados: O estudo incluiu 24 indivíduos no GDA e 26 no GS, sendo os grupos homogêneos quanto a gênero, escolaridade e etnia, porém o GS apresentou idade significativamente menor. Na comparação entre os grupos observou-se a diferença significativa apenas nas praxias orofaciais, com desempenho inferior no GDA. Nas demais medidas de fala, os grupos tiveram desempenho semelhante. Na análise de correlação entre praxias orofaciais e biomarcadores de fala, o GDA apresentou correlação significativa com a duração média de pausas e a variabilidade de pausas, enquanto no GS não obteve correlações significativas. Conclusão: Alterações sutis nas praxias orofaciais refletem no padrão temporal de fala em estágios iniciais da DA, evidenciando a importância de avaliações de linguagem e de alterações motoras para detecção precoce e intervenção individualizadas.